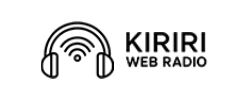No Senado Federal, a terça-feira amanheceu com cheiro de balanço histórico. Não daqueles triunfais, mas dos momentos em que a República se encara no espelho, reconhece as rachaduras e, ainda assim, tenta recompor a postura antes de seguir adiante.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Alessandro Vieira apresentou o relatório do PL Antifacção — uma versão robusta, tensa e cansada da velha crença de que o crime organizado se derrota com força bruta, nunca com inteligência de Estado. A cena foi jurídica, sim, mas sobretudo simbólica.
Foram 79 páginas de relatório e voto, acompanhadas de um substitutivo completo que reescreve o texto embaralhado vindo da Câmara. Esse detalhe, por si só, revela o estado das coisas: o projeto nasceu fragmentado, atravessou um labirinto legislativo e chega ao Senado tentando parecer reforma sólida, embora carregue remendos por todos os lados.
Ficou claro, porém, que a discussão já ultrapassou o campo penal: o que estava em jogo era a silhueta do Estado brasileiro — suas crenças, seus medos e sua dificuldade histórica de lidar com territórios que perdeu.
O centro do relatório é o novo tipo penal de “facção criminosa”, agora qualificado na Lei de Organizações Criminosas. O texto define controle territorial, atuação interestadual e violência organizada como elementos estruturantes, com pena-base entre 15 e 30 anos. É a confissão tardia de que facções deixaram de ser grupos e se tornaram poderes paralelos.
O parecer também equipara milícias a facções, reconhecendo que ambas funcionam como engrenagens criminosas que ocupam espaços abandonados pelo Estado. É um reconhecimento duro: parte do território nacional virou laboratório de soberanias clandestinas.
As penas podem ultrapassar 120 anos, especialmente para lideranças, que só progredirão após cumprir 85% do total. É a tentativa de erguer um muro penal onde faltam muros institucionais — dura, porém insuficiente.
O relatório reorganiza medidas assecuratórias, corrige trechos do CPP e preserva a Ação Civil de Perdimento apenas quando não houver confisco penal possível, evitando bis in idem. Mantém o confisco imprescritível de bens ilícitos — ferramenta poderosa, que exige algo que o país ainda não domina: investigação minuciosa, rastros financeiros transparentes, provas consistentes.
No campo investigativo, o parecer abre portas largas: autoriza infiltrações com identidades fictícias, inclusive empresas de fachada criadas para operações clandestinas. Permite gravações ambientais feitas por um interlocutor e reforça o acesso de delegados e procuradores a relatórios do Coaf. O salto investigativo é expressivo; o salto equivalente em salvaguardas, não. É desse descompasso que nasce o risco.
Na seara constitucional, Vieira recompõe destroços deixados pela Câmara. Rejeita a equiparação de facções a terrorismo, evitando um atalho perigoso. Retira a vedação ao auxílio-reclusão e ao voto, preservando direitos que não se apagam por lei ordinária. Recusa a execução da pena após primeira instância e descarta a ideia de preso pagar ao Estado pelo próprio encarceramento. Restabelece o Tribunal do Júri nos homicídios ligados ao crime organizado, mas fortalece a proteção aos jurados — alvos vulneráveis em regiões dominadas por facções.
Nada, porém, causou tanto assombro quanto a CIDE-Bets — contribuição sobre apostas eletrônicas apresentada como solução mágica para gerar até R$ 30 bilhões por ano e financiar o combate ao crime. Uma cifra celebrada antes mesmo de se saber se é viável, sustentável ou juridicamente estável.
Entre os riscos, o relatório admite o mais óbvio: a pressão sobre um sistema prisional já saturado. A combinação de penas longas, progressão rígida e novos tipos penais é receita pronta para ampliar o hiperencarceramento. E sabemos quem é empurrado primeiro para esse funil.
Outro ponto delicado é a definição de “controle territorial”. Onde termina a sociabilidade comunitária e começa a tipificação penal? Em regiões omitidas pelo Estado, essa fronteira é nebulosa. E o país, quando não entende um fenômeno, tende a tratá-lo como ameaça — hábito que já custou vidas, trajetórias e reputações.
É aqui que a História, caprichosa, impõe uma dobra. Dois Vieiras, quatro séculos de distância, iluminam uma disputa moral que ainda nos atravessa.
1655: Padre Antônio Vieira sobe ao púlpito, abre Lucas 23:43 e recita o “Hodie mecum eris in paradiso” — “Hoje estarás comigo no Paraíso.” Cristo concede ao bom ladrão o perdão imediato, bastando uma súplica sincera. Para o jesuíta, ninguém estava irremediavelmente perdido.
2025: Senador Alessandro Vieira apresenta um relatório que prevê penas que podem chegar a 120 anos, progressão mínima e indulto interditado aos chefes de facção. A porta estreita do perdão, que o sermão mantinha aberta, agora é lacrada por camadas de legislação penal.
Entre um Vieira e outro, o Brasil trocou a gramática da graça pela engenharia da punição. O bom ladrão já não pede perdão — administra territórios, impõe regras, financia campanhas.
E, entre Estado e crime, acabou a graça.
Outros pontos seguem pedindo vigilância: o poder ampliado de investigação financeira, o confisco civil, a promessa bilionária das apostas. Nenhum deles vem acompanhado de mecanismos robustos de controle e transparência.
Ao fim, o relatório de Alessandro Vieira produz um duplo movimento: corrige equívocos graves da Câmara, mas reforça uma aposta radical na lógica da guerra interna. A mensagem é clara: endurecer é prioridade; equilibrar, não.
O país enfrenta facções que operam como governos paralelos. Mas, ao erguer uma máquina penal gigantesca financiada por apostas eletrônicas, o Senado envia um recado ambíguo. Falta a mesma energia para investir em políticas sociais, presença institucional e reconstrução do Estado.
Não se combate crime organizado apenas com prisões longas. Combate-se com Estado. E, sobretudo, com a coragem de admitir que nenhum muro substitui o abandono — e que nenhum país resiste quando vira as costas para seus próprios fundamentos.